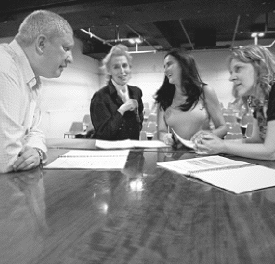Marcelo Ádams

quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Cida Moreira, Elefantilt, Cabarecht
Por falar em Elefantilt, tenho que destacar a encenação de Humberto Vieira, simples mas muito impactante visualmente. Como um dos atores avisa logo no início, a peça "não é para entender" (ou algo parecido, desculpem a citação imprecisa). Segue-se, naturalmente, uma estrutura mais ou menos definida (não vou dizer aristotélica, porque foi contra isso, justamente, que Brecht criou o seu "teatro épico"): o julgamento de um filhote de elefante, acusado de matar a própria mãe. As personagens da peça do elefante são interpretadas por personagens extraídos da peça Um homem é um homem (Galy Gay, a viúva Begbick, entre outros). Ou seja, vemos uma peça dentro de uma peça, numa estrutura épica que possibilita imensamente as quebras, os distanciamentos preconizados por Brecht: não é possível envolver-se afetivamente com a encenação, porque a todo momento somos lembrados de que se trata de uma encenação. Dentro da proposta brechtiana de estranhamento, Elefantilt é exemplar. Mas, é preciso dizer, se existe alguma reflexão a ser feita pelo espectador que assiste à montagem em questão, confesso que isso me escapou. Ao contrário de peças mais densas como Mãe coragem e seus filhos e O círculo de giz caucasiano, ou mesmo sátiras operísticas como A ópera dos três vinténs e Mahagonny, que deixam clara a questão a ser criticada, Elefantilt é quase que puramente divertimento. E não há nada de errado nisso, já que o próprio Brecht defendia o divertimento no teatro (mas não o divertimento pelo divertimento, que isso fique claro). A opção da encenação é proporcionar um espetáculo rico visualmente e musicalmente, e isso é muito mais do que se muitas vezes se vê pelos palcos brasileiros. A crítica social existe em Elefantilt, mas talvez ela não tenha fica suficientemente clara, e assim está ótimo, muito obrigado. Por se tratar de um apêndice de Um homem é um homem, conforme já escrevi, é na peça maior que se percebe claramente as intenções críticas do dramaturgo, restando a esse petit divertissement o papel que os entremezes tinham no teatro espanhol do século XVII, por exemplo. O elenco está "brechtiano", e isso é muito bom: debochados, despudorados, cantam e constroem, ao som de Cida Moreira (que está caracterizada soberbamente, parece um "cachorrão"), imagens vivas e interessantes. Os figurinos e a cenografia são especialmente belos (como é característico do Humberto), e isso não tem nada a ver apenas com beleza simétrica, pois a beleza pode ser feia, e a fealdade, bela; mas, acima de tudo, tem que ser adequada para o que se mostra sobre o palco. Quero ver Humberto montando uma peça longa de Brecht!
Cabarecht, que foi apresentado na noite de premiação do Troféu Braskem, novamente retoma o universo brechtiano, com composições Brecht-Weill e textos do dramaturgo. O elenco tem Cida Moreira (tocando um lindo piano de cauda), Antônio Carlos Brunet, Sandra Dani e Zé Adão Barbosa, e claro que o resultado é excelente. Humberto Vieira, que também dirigiu e roteirizou esse recital cênico-musical, aposta no humor, na maior parte do tempo, para nos fazer passear pela obra musical desses grandes compositores que foram Bert e Kurt. Para cantar Brecht não é necessário ser cantor lírico, já que as songs eram escritas para ser executadas por atores, mas sim saber interpretar as letras. A afinação, obviamente, é importante, mas isso os "cabarechticos" tiraram de letra, e ainda nos deram belas interpretações.
quarta-feira, 29 de setembro de 2010
Tiririca- o filio do Braziu
É tão apavorante a maneira como cidadãos desqualificados são alçados ao poder, que é preciso rir um pouco para não se desesperar. O criador deste clip pegou imagens do longa Lula, o filho do Brasil para falar da trajetória de Tiririca. Como bem ressalta a narração, o povo idiota acredita que votando em alguém como Tiririca, ou Maguila, ou Mulher-fruta, está protestando, quando na verdade está afundando ainda mais o Congresso Nacional, deixando ainda mais espaço para os tubarões, políticos profissionais que só são políticos para lucrar com isso. Nem adianta dizer "não façam isso, seus ignorantes!". Gente ignorante é que nem capim, tem no pátio de qualquer casa.
sábado, 25 de setembro de 2010
Electra
O mito de Electra serviu de material para os três grandes tragediógrafos exercitarem seus estilos durante o século V a.C., em Atenas. Ésquilo, em Coéforas (escrita em 458 a.C.), Sófocles com Electra (escrita entre 420 e 410 a.C.) e Eurípides também com Electra (escrita após 413 a.C.) trataram, de formas levemente distintas, o mito da filha que deseja vingar o pai Agamemnon, através da morte da mãe, Clitemnestra, e do tio, Egisto. Para isso, aguarda o retorno de seu irmão Orestes, para que pratique a ação sangrenta. É uma história terrível, porque envolve matricídio, talvez o mais abominável dos crimes consanguíneos, e traz embutida uma força arquetípica avassaladora.
Com um material dessa qualidade, faz-se indispensável uma encenação igualmente rica. Não digo financeiramente, porque dinheiro não compra criatividade (apesar de facilitar um pouco, às vezes): falo de riqueza teatral, de transcendência. E isso não se viu na montagem uruguaia dirigida por Marisa Bentancur, tendo a consagrada atriz Gabriela Iribarren no papel-título.
Não tenho absolutamente nada contra os clássicos, pelo contrário: tenho participado, como ator, da encenação de alguns dos grandes textos da dramaturgia universal: Hamlet, Édipo, Bodas de sangue, O médico à força, e outros. Também nada contra encenações "clássicas" desses textos (o que é mesmo clássico? Será algo que se opõe a experimental?). Discussões à parte, mesmo em encenações clássicas há momentos do que chamo de transcendência, de inventividade, quando o encenador coloca sua visão a respeito da obra a serviço de uma ideia. Isso é necessário.
A montagem uruguaia tentou esse recurso em alguns momentos, mas infelizmente de maneira equivocada. Uma trilha sonora estranha, algo como lounge music, durante a cena de reconhecimento entre Electra e Orestes é inexplicável. também não se entende aquelas partituras de dança contemporânea executadas pelo coro, em alguns momentos. Quase risíveis, não fosse a garra do elenco inteiro. Os figurinos são feios, especialmente o vestido de Clitemnestra, de um amarelo deslocado, assim como o tecido e o modelo "madrinha de casamento". Aliás, a maquiagem lembrava uma madrinha. Egisto entra com um calçado que parece uma Melissinha, e por aí vai.
A cenografia é claramente inspirada nos esboços de Edward Gordon Craig, e isso é uma virtude. Mas os níveis diferentes são usados sem a devida propriedade, porque as personagens permanecem estáticas durante longas falas, o que torna bastante maçante a encenação. Para que encenar Electra desse jeito? Melhor fazer uma leitura dramática ou comprar o texto e ler em casa.
Uma das coisas mais estranhas do espetáculo foi a morte de Clitemnestra e de Egisto. Todos sabem que, na tragédia antiga, as mortes nunca eram exibidas em cena, porque os atenienses não suportavam esse tipo de violência diante de seus olhos. Por esse motivo, há inúmeros exemplos, nas tragédias gregas, de cenas de narradores que vêm contar em detalhes mortes e atrocidades ocorridas fora do palco. Nessa Electra de Sófocles, no texto original, a morte ocorre fora de cena, ouvindo-se apenas os gritos da mulher e do amante assassinados. Na montagem uruguaia, Clitemnestra é trazida para o palco, agarrada pelos pulsos de forma desajeitada por Pílades, amigo de Orestes, e apunhalada com um objeto invisível pelo filho. Sim, Orestes estica a mão vazia e encosta no ventre da mulher, que morre. Por que? Só se justificaria trazer essa ação para as vistas do público se ela fosse executada com violência e verossimilhança. Desta forma, como encenada pelos uruguaios, nem uma coisa nem outra: não agrada a gregos nem troianos, e torna-se ridícula. O mesmo se repete no assassinato de Egisto. Incompreensível a escolha.
Gabriela Iribarren é a melhor do elenco; felizmente, porque é quem mais fala. No entanto, mesmo com uma bela dicção, mantém um tom choroso e monocórdico durante muito tempo, o que é cansativo e distancia. De resto, a velocidade das falas muitas vezes torna dificílimo compreender o que dizem os atores, falando em espanhol.
A iluminação é simples, mas bonita. Não há muito mais o que dizer sobre a peça, porque ela não atinge um nível de destaque, apresentando vários problemas de encenação. E por essa razão, Marisa Bentancur é a principal responsável pelo não êxito da empreitada.
Final de partida
Sou um apaixonado pelos autores que se costuma enquadrar sob a denominação "guardachuvática" (neologismo meu, me perdoem) de Teatro do Absurdo. Este termo foi criado por Martin Esslin em seu livro de 1961, que tem por título a mesma expressão, e passou a ser aplicado a dramaturgos como Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Harold Pinter, Vaclav Havel, Fernando Arrabal, Arthur Adamov e outros. Não é a toa que no próximo dia 15 de outubro, meu grupo, a Cia. de Teatro ao Quadrado, estreia o espetáculo A lição, de Eugéne Ionesco, no ano em que se comemoram os 60 anos do Teatro do Absurdo (cujo primeiro movimento é considerado a encenação de A cantora careca, de Ionesco, em 1950).
Beckett escreveu Fim de partida em 1957, este que é um dos textos mais celebrados desse genial autor irlandês, e onde repete temas encontráveis em Esperando Godot, sua obra mais conhecida. A desesperança do beco sem saída em que habitam as personagem Hamm, Clov, Nagg e Nell, aliada ao humor amargo e nigérrimo, fazem esta peça um exemplo da filosofia beckettiana: o niilismo convive com o burlesco.
O que me agradou na montagem venezuelana foi a disponibilidade física dos atores, especialmente o domínio corporal do intérprete de Clov. Não me lembro de ter visto uma montagem dessa obra tão exigente em termos físicos. Por outro lado, é justamente isso que também me desagrada nessa versão: tudo é acelerado, gritado mesmo, sem tempo para as famosas e bem-vindas pausas do texto, que estão lá não por um capricho do autor, mas porque contribuem com a atmosfera buscada. Como em Esperando Godot, onde Gogo e Didi esperam Godot, que nunca vem, e enquanto isso criam jogos e brincadeiras para passar o tempo, em Fim de partida Hamm e Clov também esperam por algo, que nem eles próprios sabem o que é. Pode-se dizer que eles esperam o tempo passar, como quem carrega sobre os ombros o peso de estar vivo sem objetivos muito definidos. Nesse sentido, Endgame é ainda mais cruel que Waiting for Godot, já que nesta havia a esperança e o sonho de que Godot pudesse resolver seus problemas e acolhê-los em um lugar quentinho. Na peça de 1957, não há esperança, o mundo está desolado, tudo é cinza, cinza, cinza, e parece não haver ninguém mais no mundo para dividir as desgraças.
Ao optar pelo ritmo acelerado, a montagem dirigida por Héctor Manrique investe mais no estranhamento cômico proporcionado pelas ações das personagens do que na reflexão, que deveria se instalar, venenosa, de que viver é esperar pela morte. Não concordo com essa tentativa de tornar mais palatáveis as coisas. Ao final da peça, inclusive, há um lampejo melodramático nos discursos das personagens, que também considero equivocada. Não se chora por essas figuras, elas mesmas não têm pena de si. Pode haver esboços de desespero, mas que são logo encobertos. Não adiantam de nada. Em uma das falas mais brilhantes da peça, Hamm diz "Acho que estamos começando a significar alguma coisa", sem ter muita certeza do que seria esse significado. Para mim, isso é Beckett.
Beckett escreveu Fim de partida em 1957, este que é um dos textos mais celebrados desse genial autor irlandês, e onde repete temas encontráveis em Esperando Godot, sua obra mais conhecida. A desesperança do beco sem saída em que habitam as personagem Hamm, Clov, Nagg e Nell, aliada ao humor amargo e nigérrimo, fazem esta peça um exemplo da filosofia beckettiana: o niilismo convive com o burlesco.
O que me agradou na montagem venezuelana foi a disponibilidade física dos atores, especialmente o domínio corporal do intérprete de Clov. Não me lembro de ter visto uma montagem dessa obra tão exigente em termos físicos. Por outro lado, é justamente isso que também me desagrada nessa versão: tudo é acelerado, gritado mesmo, sem tempo para as famosas e bem-vindas pausas do texto, que estão lá não por um capricho do autor, mas porque contribuem com a atmosfera buscada. Como em Esperando Godot, onde Gogo e Didi esperam Godot, que nunca vem, e enquanto isso criam jogos e brincadeiras para passar o tempo, em Fim de partida Hamm e Clov também esperam por algo, que nem eles próprios sabem o que é. Pode-se dizer que eles esperam o tempo passar, como quem carrega sobre os ombros o peso de estar vivo sem objetivos muito definidos. Nesse sentido, Endgame é ainda mais cruel que Waiting for Godot, já que nesta havia a esperança e o sonho de que Godot pudesse resolver seus problemas e acolhê-los em um lugar quentinho. Na peça de 1957, não há esperança, o mundo está desolado, tudo é cinza, cinza, cinza, e parece não haver ninguém mais no mundo para dividir as desgraças.
Ao optar pelo ritmo acelerado, a montagem dirigida por Héctor Manrique investe mais no estranhamento cômico proporcionado pelas ações das personagens do que na reflexão, que deveria se instalar, venenosa, de que viver é esperar pela morte. Não concordo com essa tentativa de tornar mais palatáveis as coisas. Ao final da peça, inclusive, há um lampejo melodramático nos discursos das personagens, que também considero equivocada. Não se chora por essas figuras, elas mesmas não têm pena de si. Pode haver esboços de desespero, mas que são logo encobertos. Não adiantam de nada. Em uma das falas mais brilhantes da peça, Hamm diz "Acho que estamos começando a significar alguma coisa", sem ter muita certeza do que seria esse significado. Para mim, isso é Beckett.
sexta-feira, 24 de setembro de 2010
Navalha na carne
Navalha na carne é, dividindo o pódio com Dois pedidos numa noite suja, a peça mais conhecida escrita pelo dramaturgo santista Plínio Marcos. Encenada pela primeira vez em 1967, no auge portanto da ditadura militar no Brasil (mas ainda antes do famigerado AI 5, de dezembro de 1968), a peça situa-se no cume da linguagem desenvolvida por Marcos em dezenas de outras obras. Por linguagem entendo a forma como as personagens que habitam o submundo e a periferia das grandes cidades se expressam nas peças escritas por ele. Palavras de baixo calão, gírias, discursos objetivos e ausência quase que absoluta de uma elaboração "poética" da fala, concentrando-se no que se chama de função emotiva ou expressiva da linguagem. Muitas interjeições, muito bate boca, uma repetição estrutural de motivos que se acumulam. Navalha na carne é uma peça simples, dramaticamente falando, porque não há uma evolução rica do conflito exposto. O conflito é muito mais uma forma de escancarar alguns tipos de personagens, neste caso, pessoas que vivem à margem da sociedade, envolvidas com prostituição.
Esse mundo foi explorado por Plínio Marcos em várias de suas peças. Era um universo que ele conhecia intimamente, por convivência. Por isso são tão verdadeiras as palavras pronunciadas por Vado, Neusa Sueli e Veludo. A peça é, nesse sentido, quase documental, porque não defende exatamente um ponto de vista, apenas mostra as coisas como são. A prostituta serve ao cafetão sem nenhum traço de auto-estima; o cafetão só quer viver bem através da exploração e da violência; o homossexual tem a sexualidade à flor da pele. Essas são as características dadas por Marcos às suas figuras. Sim, quando se lida com tipos tão específicos como esses, há o risco de redução comportamental e caricaturização (nem todos os homossexuais se comportam como Veludo; nem todas as prostitutas agem como Neusa Sueli). Mas, para efeito cênico, as coisas funcionam muito bem como escritas por Plínio Marcos: a intenção não era psicologizar.
Esse autor, morto em 1999, em grande dificuldade financeira, apresenta com Navalha na carne uma peça muito ruim de ser lida, mas que pode funcionar esplendidamente como encenação. O texto é praticamente nada (o que pode transformar a encenação em nada, igualmente). O mérito desta montagem dirigida por Pedro Granato é nos dar, surpreendentemente, uma visão nova sobre esse conhecidíssimo embate. Talvez o uso inteligente das pausas e, mais do que isso, o abandono, em muitos momentos, do grito, transformando uma intenção grandiloquente em algo sussurrado. Isso nos desautomatiza: onde esperamos o desaforo escancarado, recebemos a ironia e o deboche à meia voz.
Os atores são muito bons, e se entregam completamente à encenação, o que eleva muito o tom de verdade exigido. A ambientação, simples mas na medida, contribui para o engajamento do espectador, que sente quase "na carne" a violência. Sem dúvida, um dos melhores espetáculos deste festival.
Esse mundo foi explorado por Plínio Marcos em várias de suas peças. Era um universo que ele conhecia intimamente, por convivência. Por isso são tão verdadeiras as palavras pronunciadas por Vado, Neusa Sueli e Veludo. A peça é, nesse sentido, quase documental, porque não defende exatamente um ponto de vista, apenas mostra as coisas como são. A prostituta serve ao cafetão sem nenhum traço de auto-estima; o cafetão só quer viver bem através da exploração e da violência; o homossexual tem a sexualidade à flor da pele. Essas são as características dadas por Marcos às suas figuras. Sim, quando se lida com tipos tão específicos como esses, há o risco de redução comportamental e caricaturização (nem todos os homossexuais se comportam como Veludo; nem todas as prostitutas agem como Neusa Sueli). Mas, para efeito cênico, as coisas funcionam muito bem como escritas por Plínio Marcos: a intenção não era psicologizar.
Esse autor, morto em 1999, em grande dificuldade financeira, apresenta com Navalha na carne uma peça muito ruim de ser lida, mas que pode funcionar esplendidamente como encenação. O texto é praticamente nada (o que pode transformar a encenação em nada, igualmente). O mérito desta montagem dirigida por Pedro Granato é nos dar, surpreendentemente, uma visão nova sobre esse conhecidíssimo embate. Talvez o uso inteligente das pausas e, mais do que isso, o abandono, em muitos momentos, do grito, transformando uma intenção grandiloquente em algo sussurrado. Isso nos desautomatiza: onde esperamos o desaforo escancarado, recebemos a ironia e o deboche à meia voz.
Os atores são muito bons, e se entregam completamente à encenação, o que eleva muito o tom de verdade exigido. A ambientação, simples mas na medida, contribui para o engajamento do espectador, que sente quase "na carne" a violência. Sem dúvida, um dos melhores espetáculos deste festival.
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
As sete caras da verdade
É tão bom poder afirmar que um dos melhores espetáculos do 17º Porto Alegre Em Cena é gaúcho! Em meio a verdadeiros ícones do teatro mundial, a ópera cômica As sete caras da verdade, de Nico Nicolaiewsky e Fernando Jankzura, com direção cênica do próprio Nico assistido pela mulher, Márcia do Canto, é uma excelente surpresa.
Praticamente só se veem acertos em cena. A começar pela simplicidade da encenação, sem nenhum elemento cenográfico a não ser a pequena plataforma onde se postam os integrantes do coro. De resto, apenas adereços (também mínimos, um revólver, um livro), indispensáveis apenas porque são parte integrante da trama criada por Nico. Trama? Bem, essa é uma das brincadeiras da ópera em questão.
Não há, a rigor, trama nenhuma. Quem está acostumado às intrincadas fábulas de um Rossini ou Verdi, vai se surpreender com como é possível não contar quase nada em 50 minutos (se bem que políticos sabem muito bem como fazer isso, talvez resultassem bons cantores líricos...). E é justamente esse tão pouco a dizer que torna As sete caras da verdade tão estimulante como obra de arte.
Há um fiapo de história: Alencar é visitado por Rodolfo, em sua casa. Rodolfo mata-o a tiros; mas antes de expirar, revela-lhe um segredo "ao pé do ouvido". Há ainda o Narrador e a mulher de Alencar. Trocas de identidade e outras mortes resumem muito bem o que se vê em cena. É só. Achou pouco? Sim, é pouco, mas o suficiente para ser antológico. O non sense domina a cena. A metalinguagem é A linguagem desta ópera, que bebe claramente nas HQs (As sete caras... já foi publicada nesse formato, inclusive). Referências visuais ao filme Dick Tracy, dirigido e estrelado por Warren Beatty em 1990, são muito adequadas, e dão o tom caricaturesco esperado (há até perucas estilo Lego).
Os figurinos de Antônio Rabadan são engraçados e muito dentro da concepção; o coro, formado por integrantes do Coral Expresso 25, se sai bem, apesar de uma certa "dureza" cênica, nada que um pouco mais de prática de palco não resolva, com o tempo. Houve algumas imprecisões na operação da iluminação criada por Marga Ferreira, mas nada catastrófico e que não se acerte com o prosseguimento (pena que no Theatro São Pedro, por enquanto, não se apresentarão).
O destaque maior nesse tipo de ópera de bolso, com recursos reduzidos, geralmente são os solistas. Neste caso, Ricardo Barpp como o Narrador, tem figura cênica muito boa, além de cantar magistralmente. Carlos Careqa, como Alencar, é divertido, mas mostra pouco, porque sua participação é pequena. Adriana Deffenti é, sem dúvida, e inversamente proporcional à sua participação de poucos minutos, o grande destaque da ópera. Nada menos que antológica é sua participação como a mulher de Alencar: excelente cantora e comediante impagável, faz render absurdamente sua personagem, apenas com o timing perfeito.
Me perdoa, Nico, mas acho que tua ambição foi demasiada: não bastasse escrever e dirigir a ópera, ainda quis interpretar o papel de Rodolfo, o matador. Essa é a maior fragilidade do espetáculo, infelizmente. O contraste com as vozes perfeitas de Adriana e Ricardo pesa negativamente para Nico. Sua voz por vezes é encoberta pela pequena orquestra, denunciando a técnica imperfeita do comediante experiente. Há também indecisões no ataque junto à música, perceptíveis, quando deveriam ser escamoteados. Talvez o nervosismo explique em parte esses problemas, mas o fato é que Nico poderia ter escalado um tenor com maior potência vocal. E digo isso considerando a breve experiência que tenho como encenador de ópera (sim, meus amigos, em 2005 dirigi a ópera verista I pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, na PUCRS, com coro de 80 integrantes, seis solistas e seis bailarinos; uma experiência e tanto).
O trabalho musical do maestro Fernando Cordela é bastante eficiente, com uma orquestra afinada e antenada. Em resumo, é um feito notável o de Nico Nicolaiewsky: satiriza, ao mesmo tempo, a ópera romântica e a ópera moderna. Explico: o entrecho melodramático típico da gran opera, com crimes e segredos a serem revelados, convive com a inspiração de uma ópera moderna como Einstein on the beach, criada pelo genial Philip Glass, com encenação de Bob Wilson, em 1976. A repetição de linhas melódicas e de motivos musicais, típica de Glass, encontra reflexo em Nico. O que o compositor gáucho faz, no entanto, é reverter a intenção original de Glass, utilizando o recurso da repetição como motivo cômico. E consegue atingir plenamente seu intento.
Parabéns entusiasmados ao Nico e toda sua equipe! Porto Alegre está orgulhosa, tenho certeza.
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Corte seco
Corte seco é o típico espetáculo que retrata uma época, e isso é um elogio. A forma dramática elíptica, saltadora, imprecisa, é a cara do século XXI. Não sei o que dirão os historiadores do teatro daqui a 50 anos, mas hoje, em 2010, sinto que a forma encontrada pela diretora Christiane Jatahy é a que melhor transmite os dias que vivemos. Dramatículas (drama + partículas) se sucedem, mostrando trechos mais ou menos acabados, provenientes de relatos pessoais dos atores, notícias de jornal, improvisações, etc. O resultado é muito estimulante, vivo, inesperado às vezes. A sensação de insegurança é também presente para os atores, imagino, o que faz com que estejam muito mais "ligados" o tempo inteiro. Certo, nem todas as micro-cenas funcionam à perfeição, mas, por outro lado, algumas são realmente tocantes. Há coisas muito engraçadas, também.
Não há como definir o que é Corte seco, sem se alongar em descrições e teorizações. Mas isso não é necessário para fruir a encenação. Os atores são, quase que unanimemente, excelentes, com um tempo de improviso e de reação admiráveis. Acho que essa é a cara do século XXI que eu mais admiro, não aquela da tecnologia infindável. Gosto de ver as coisas, cada vez mais, nas mãos de bons atores e de boas histórias (fragmentadas, elípticas, ou não).
Só para falar algo mais concreto: as histórias, como não poderia deixar de ser, falam de relações entre pessoas (sexuais, parentais, fracassadas quase sempre). Nós, nos anos 2000, falamos disso sem pudores, e isso é bom.
Não há como definir o que é Corte seco, sem se alongar em descrições e teorizações. Mas isso não é necessário para fruir a encenação. Os atores são, quase que unanimemente, excelentes, com um tempo de improviso e de reação admiráveis. Acho que essa é a cara do século XXI que eu mais admiro, não aquela da tecnologia infindável. Gosto de ver as coisas, cada vez mais, nas mãos de bons atores e de boas histórias (fragmentadas, elípticas, ou não).
Só para falar algo mais concreto: as histórias, como não poderia deixar de ser, falam de relações entre pessoas (sexuais, parentais, fracassadas quase sempre). Nós, nos anos 2000, falamos disso sem pudores, e isso é bom.
terça-feira, 21 de setembro de 2010
Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) é outro daqueles dramaturgos franceses que são destaque na dramaturgia contemporânea. Montado no mundo inteiro, suas peças já chegaram ao Brasil há alguns anos, e entre seus textos mais conhecidos estão Apenas o fim do mundo, Music hall, História de amor e o texto que serviu de base para este espetáculo espanhol, traduzido em nossa língua como As regras da arte de bem viver na sociedade moderna (título da edição portuguesa do texto, que tenho).
O texto original de Lagarce, escrito em 1993, coloca como única indicação para um hipotético encenador a definição da personagem que diz essas palavras, "A SENHORA". De resto, ao longo de 37 páginas, sucedem-se orientações a respeito de como os indivíduos devem se comportar em situações sociais ritualizadas, tais como nascimento, batismo, casamento, bodas de prata e funeral. É um texto totalmente narrativo, sem nenhuma indicação de ação dramática. Ainda assim, pelo absurdo das afirmações da personagem, pode-se extrair daí uma bela comédia, mas para isso requere-se um excelente intérprete, para colorir essa narração.
A montagem em questão, a cargo de Ernesto Calvo e interpretada por Gerardo Begérez, cumpre apenas parcialmente essa potencialidade. A bem da verdade, não há praticamente um trabalho de encenação. O ator, que é bom, movimenta-se, durante grande parte do tempo, quase que aleatoriamente. Algumas ações são criadas com a colocação, em diferentes configurações, de alguns caixotes de madeira pintados de branco. Também há sapatos vermelhos femininos e pretos masculinos; um buquê de flores; e dois castiçais com cinco velas cada. Basicamente é isso, e o trabalho do ator, que inicia a peça travestido como mulher, vestido dos pés à cabeça com um esvoaçante vestido branco. Durante a encenação, ele vai despindo a roupa e termina apenas de cuecas. Pergunta número 1: por que isso? Qual código obscuro levou a direção do espetáculo a isso? Fiquei sem saber.
A pergunta número 2 é: por que não investir no aspecto cômico do texto com mais intensidade? Não há quase nada que auxilie o ator a contar a história de forma mais dinâmica, ainda mais pelo tom de voz pausado e de volume médio que emprega durante todo o tempo. Há, claramente, um investimento no risível da situação e das regras enunciadas, mas parece ter faltado criatividade para desenvolver tudo isso. É um espetáculo nota 7, mas poderia ser quase 10, com um pouquinho mais de esforço. Parece preguiça.
Pergunta 3: por que a iluminação é tão ruim, tão imprecisa? Nem é culpa do ator, exclusivamente, mas da criação da luz, que propõe focos impossíveis de serem seguidos. A luz parece fazer parte de outro espetáculo, quase sempre.
Bem, em resumo, o texto é suficientemente aberto para render muito mais do que nos apresentaram os espanhóis. Poderia ser uma comédia hilariante, é só lembrar da personagem Madame Hortense, interpretada há alguns anos pelo falecido Leverdógil de Freitas. Mas não foi dessa vez. Quem sabe eu me arrisco a montar esse texto?
O texto original de Lagarce, escrito em 1993, coloca como única indicação para um hipotético encenador a definição da personagem que diz essas palavras, "A SENHORA". De resto, ao longo de 37 páginas, sucedem-se orientações a respeito de como os indivíduos devem se comportar em situações sociais ritualizadas, tais como nascimento, batismo, casamento, bodas de prata e funeral. É um texto totalmente narrativo, sem nenhuma indicação de ação dramática. Ainda assim, pelo absurdo das afirmações da personagem, pode-se extrair daí uma bela comédia, mas para isso requere-se um excelente intérprete, para colorir essa narração.
A montagem em questão, a cargo de Ernesto Calvo e interpretada por Gerardo Begérez, cumpre apenas parcialmente essa potencialidade. A bem da verdade, não há praticamente um trabalho de encenação. O ator, que é bom, movimenta-se, durante grande parte do tempo, quase que aleatoriamente. Algumas ações são criadas com a colocação, em diferentes configurações, de alguns caixotes de madeira pintados de branco. Também há sapatos vermelhos femininos e pretos masculinos; um buquê de flores; e dois castiçais com cinco velas cada. Basicamente é isso, e o trabalho do ator, que inicia a peça travestido como mulher, vestido dos pés à cabeça com um esvoaçante vestido branco. Durante a encenação, ele vai despindo a roupa e termina apenas de cuecas. Pergunta número 1: por que isso? Qual código obscuro levou a direção do espetáculo a isso? Fiquei sem saber.
A pergunta número 2 é: por que não investir no aspecto cômico do texto com mais intensidade? Não há quase nada que auxilie o ator a contar a história de forma mais dinâmica, ainda mais pelo tom de voz pausado e de volume médio que emprega durante todo o tempo. Há, claramente, um investimento no risível da situação e das regras enunciadas, mas parece ter faltado criatividade para desenvolver tudo isso. É um espetáculo nota 7, mas poderia ser quase 10, com um pouquinho mais de esforço. Parece preguiça.
Pergunta 3: por que a iluminação é tão ruim, tão imprecisa? Nem é culpa do ator, exclusivamente, mas da criação da luz, que propõe focos impossíveis de serem seguidos. A luz parece fazer parte de outro espetáculo, quase sempre.
Bem, em resumo, o texto é suficientemente aberto para render muito mais do que nos apresentaram os espanhóis. Poderia ser uma comédia hilariante, é só lembrar da personagem Madame Hortense, interpretada há alguns anos pelo falecido Leverdógil de Freitas. Mas não foi dessa vez. Quem sabe eu me arrisco a montar esse texto?
domingo, 19 de setembro de 2010
Torturas de um coração
O Grupo Sarça de Horeb, do Rio de Janeiro, mantém esse espetáculo há cerca de 20 anos em repertório. Torturas de um coração ou Em boca fechada não entra mosquito é um entremez para mamulengo, ou seja, um texto criado em 1951 para ser atuado por bonecos. Já havia tido a oportunidade de assistir a essa excepcional montagem no ano 2000, em Florianópolis, no Festival de Teatro Isnard Azevedo, e fiquei naquela época encantado com a proposta de colocar atores interpretando mamulengos. Voltei, dez anos depois, e conferi novamente esse espetáculo histórico.
O texto em si é muito simples, mas eficaz comicamente: o negro Benedito se apaixona por Marieta. Esta, no entanto, é disputada por dois valentões da cidadezinha de Taperoá: o Cabo Setenta e o bigodudo Vicentão. Para obter o seu objeto de desejo, Benedito vai engambelar os dois pretendentes com artimanhas típicas da tradição dramática ocidental, que passam pelos criados e soldados fanfarrões de Plauto, pelos criados espertos da Commedia dell'arte e Molière, e avante.
No ano passado, o Santander Cultural promoveu, no verão, um ciclo de leituras dramáticas de Ariano Suassuna, autor de Torturas de um coração. Participei dirigindo justamente esta pecinha deliciosa estrelada por Benedito (que era interpretado pela Margarida Leoni Peixoto). A forma como Suassuna constrói sua breve história é irresistível, e traz toda a influência da cultura Armorial (Espanha e Portugal) em sua ação. O destaque maior, como não poderia deixar de ser, é o trabalho dos atores, excelentes, que corporificam a movimentação de bonecos com muita habilidade. A música ao vivo é também uma boa sacada, especialmente na cena da serenata, cheia de poesia e lirismo. Um trabalho que merece sua longa vida nos palcos brasileiros.
O texto em si é muito simples, mas eficaz comicamente: o negro Benedito se apaixona por Marieta. Esta, no entanto, é disputada por dois valentões da cidadezinha de Taperoá: o Cabo Setenta e o bigodudo Vicentão. Para obter o seu objeto de desejo, Benedito vai engambelar os dois pretendentes com artimanhas típicas da tradição dramática ocidental, que passam pelos criados e soldados fanfarrões de Plauto, pelos criados espertos da Commedia dell'arte e Molière, e avante.
No ano passado, o Santander Cultural promoveu, no verão, um ciclo de leituras dramáticas de Ariano Suassuna, autor de Torturas de um coração. Participei dirigindo justamente esta pecinha deliciosa estrelada por Benedito (que era interpretado pela Margarida Leoni Peixoto). A forma como Suassuna constrói sua breve história é irresistível, e traz toda a influência da cultura Armorial (Espanha e Portugal) em sua ação. O destaque maior, como não poderia deixar de ser, é o trabalho dos atores, excelentes, que corporificam a movimentação de bonecos com muita habilidade. A música ao vivo é também uma boa sacada, especialmente na cena da serenata, cheia de poesia e lirismo. Um trabalho que merece sua longa vida nos palcos brasileiros.
Anatomia Frozen
O diretor Marcio Aurelio, responsável pela encenação de Anatomia Frozen, é um dos mais destacados do país, dirigindo, desde os anos 1970, espetáculos marcantes no teatro brasileiro. Este que agora pudemos conferir no Em Cena, certamente entrará para a galeria dos melhores do diretor.
O que é mais surpreendente é a maneira como as expectativas se invertem, ao longo da peça. Apesar de ter boas doses de humor, a história contada é pesadíssima, angustiante, e a opção do encenador é vestir as personagens com roupas quase ridículas: um saco de plástico branco, um avental de açougueiro tendo por baixo um cueca samba-canção, toucas de plástico transparente na cabeça. Não consegui compreender o sentido dessas vestes tão estranhas, exceto o fato de serem, todas, brancas. Certo, assepsia deve ser o sentimento buscado. Paulo Marcello tem a aparência de um cirurgião, e Joca Andreazza lembra, vagamente, alguém que está sendo levado para uma mesa de cirurgia. Se fosse essa a ideia, porque o ridículo? Resposta minha: para estranhar. Sinto cheiro de Brecht por aqui, oba!
Fiquei sabendo pela Florência Gil, que acompanhou a montagem desse espetáculo, que o texto original de Anatomia Frozen, escrito por Bryony Lavery, tem uma estrutura convencional, em três atos, com três personagens sendo interpretadas por três atores (ou melhor, um ator e duas atrizes). O grande trabalho de adpatação, a cargo da Cia. Razões Inversas, é admirável e perfeito. Transformaram a estrutura aristotélica original uma pérola do teatro épico, e comprovam aquilo que Bertolt Brecht já defendia: distanciamento não é sinônimo de frieza, pois é possível sim comover-se com essa estética tão específica. Como rezava a cartilha do Pequeno Organon, os momentos de distanciamento eram apresentados, de tempos em tempos, para nos relembrar que trata-se de atores interpretando personagens: Paulo Marcello, por exemplo, interpreta duas mulheres, vestido e com aparência de, homem. Nem sei se Marcio Aurelio teve essa proposta brechtiana em sua encenação, mas como a leitura do receptor é a que conta, pois em última análise somos nós quem decodificamos a mensagem, vou tomar como essa a intenção.
A trama da peça coloca uma "doutora em cérebro", um pedófilo assassino e a mãe de uma das pequenas vítimas do psicopata como peões do tabuleiro da encenação. Com uma simplicidade extrema de elementos, apenas três banquinhos de aço, colocados paralelemente ao proscênio, e um linóleo preto cobrindo o chão, o maior mérito da montagem é, indubitavelmente, o trabalho dos dois atores, nada menos que brilhante. E se é possível ser melhor que brilhante, concedo essa possibilidade a Joca Andreazza, que interpreta o assassino: ele é muito bom, tem tudo que é necessário ao Ator com A maiúsculo, voz potente, corpo ágil, timing, sensibilidade. Paulo Marcello, apesar de ser excelente, apresenta alguns problemas de dicção, que uma vez resolvidos, o qualificarão ainda mais.
Sem dúvida um dos meus destaques do Em Cena deste ano.
O que é mais surpreendente é a maneira como as expectativas se invertem, ao longo da peça. Apesar de ter boas doses de humor, a história contada é pesadíssima, angustiante, e a opção do encenador é vestir as personagens com roupas quase ridículas: um saco de plástico branco, um avental de açougueiro tendo por baixo um cueca samba-canção, toucas de plástico transparente na cabeça. Não consegui compreender o sentido dessas vestes tão estranhas, exceto o fato de serem, todas, brancas. Certo, assepsia deve ser o sentimento buscado. Paulo Marcello tem a aparência de um cirurgião, e Joca Andreazza lembra, vagamente, alguém que está sendo levado para uma mesa de cirurgia. Se fosse essa a ideia, porque o ridículo? Resposta minha: para estranhar. Sinto cheiro de Brecht por aqui, oba!
Fiquei sabendo pela Florência Gil, que acompanhou a montagem desse espetáculo, que o texto original de Anatomia Frozen, escrito por Bryony Lavery, tem uma estrutura convencional, em três atos, com três personagens sendo interpretadas por três atores (ou melhor, um ator e duas atrizes). O grande trabalho de adpatação, a cargo da Cia. Razões Inversas, é admirável e perfeito. Transformaram a estrutura aristotélica original uma pérola do teatro épico, e comprovam aquilo que Bertolt Brecht já defendia: distanciamento não é sinônimo de frieza, pois é possível sim comover-se com essa estética tão específica. Como rezava a cartilha do Pequeno Organon, os momentos de distanciamento eram apresentados, de tempos em tempos, para nos relembrar que trata-se de atores interpretando personagens: Paulo Marcello, por exemplo, interpreta duas mulheres, vestido e com aparência de, homem. Nem sei se Marcio Aurelio teve essa proposta brechtiana em sua encenação, mas como a leitura do receptor é a que conta, pois em última análise somos nós quem decodificamos a mensagem, vou tomar como essa a intenção.
A trama da peça coloca uma "doutora em cérebro", um pedófilo assassino e a mãe de uma das pequenas vítimas do psicopata como peões do tabuleiro da encenação. Com uma simplicidade extrema de elementos, apenas três banquinhos de aço, colocados paralelemente ao proscênio, e um linóleo preto cobrindo o chão, o maior mérito da montagem é, indubitavelmente, o trabalho dos dois atores, nada menos que brilhante. E se é possível ser melhor que brilhante, concedo essa possibilidade a Joca Andreazza, que interpreta o assassino: ele é muito bom, tem tudo que é necessário ao Ator com A maiúsculo, voz potente, corpo ágil, timing, sensibilidade. Paulo Marcello, apesar de ser excelente, apresenta alguns problemas de dicção, que uma vez resolvidos, o qualificarão ainda mais.
Sem dúvida um dos meus destaques do Em Cena deste ano.
sábado, 18 de setembro de 2010
Na solidão dos campos de algodão
Bernard-Marie Koltès (1948-1989) fez parte de uma geração de artistas devastada pela AIDS, ceifados em plena força criativa antes de avançarem ainda mais em suas buscas estéticas. Francês de nascimento, assim como Jean-Luc Lagarce, Koltès foi o responsável por alguns dos textos contemporâneos mais encenados pelo mundo (Tabataba, Combate de negros e cães, Roberto Zucco), em função de sua forma poética inovadora, que em Koltès se caracteriza pela palavra em primeiro plano. As longas réplicas enunciadas pelas duas personagens do texto Na solidão dos campos de algodão, de 1986, rompem, segundo Jean-Pierre Ryngaert (Ler o teatro contemporâneo, p. 25), "com a utilização contemporânea do diálogo nervoso", encontradas em Sarah Kane, por exemplo, surgida alguns anos depois. As duas personagens, sem nome, referidas apenas como o Cliente e o Negociador (ou Vendedor, ou Dealer, no texto original), são homens que se encontram, dentro da noite, e trocam impressões sobre suas funções, desejos, e filosofam largamente sobre essas questões.
Como texto aberto, Na solidão... é um desafio (palavrinha batida, mas necessária) para um encenador, que deverá encontrar a forma menos árida para colocar em cena essas palavras tão fortemente marcadas pela retórica, e sem sugestões, por parte do autor, de ações que as possam colorir. Assim, é um trabalho eminentemente de ator que é exigido, para deixar claras as nuances e movimentos de defesa e ataque propostos pelo texto.
A encenação de Caco Ciocler, com os atores Armando Babaioff (o Cliente) e Gustavo Vaz (o Negociador), encontra uma ambientação bastante original, e ao mesmo tempo muito adequada: cinco imensas gangorras de madeira, que se inclinam conforme as movimentações dos atores sobre elas. Ponto para a encenação. No entanto, o artifício se esgota, pois a peça tem 90 minutos, e o que fica é a necessidade de continuar falando, compulsivamente, e os atores, que têm um bom domínio da arte de dizer um texto, se esmeram em tornar interessantes as idas e vindas da relação.
Babaioff, que de início tem alguns problemas de dicção, se sai melhor no conjunto, exclusivamente porque Vaz, o Dealer, é tão vaidoso como ator que impregna sua personagem desse mesmo tom. Percebe-se claramente que ele se acha grande. Nada contra a vaidade no intérprete, acho mesmo que ela seja intrínseca, porque o ator é um exibicionista. Mas Vaz poderia ter segurado um pouco mais seu deslumbramento, que o torna por vezes antipático pelo excesso.
A cenografia e a iluminação apresentam possibilidades de grande beleza plástica. A luz é simples, mas eficiente. O que afasta um pouco o espectador médio é, sem dúvida, a complexidade do texto, longe de ser comunicativo, porque se embrenha em labirintos. É preciso ter atenção redobrada, porque o espaço onde a peça foi apresentada é grandioso, e o texto é intimista. As palavras de Koltès são lindas, fazem todo o sentido. Mas essa é a encruzilhada da dramaturgia contemporânea: a beleza e o cuidado da forma têm que conviver com a dificuldade, com a sofisticação propostas.
Como texto aberto, Na solidão... é um desafio (palavrinha batida, mas necessária) para um encenador, que deverá encontrar a forma menos árida para colocar em cena essas palavras tão fortemente marcadas pela retórica, e sem sugestões, por parte do autor, de ações que as possam colorir. Assim, é um trabalho eminentemente de ator que é exigido, para deixar claras as nuances e movimentos de defesa e ataque propostos pelo texto.
A encenação de Caco Ciocler, com os atores Armando Babaioff (o Cliente) e Gustavo Vaz (o Negociador), encontra uma ambientação bastante original, e ao mesmo tempo muito adequada: cinco imensas gangorras de madeira, que se inclinam conforme as movimentações dos atores sobre elas. Ponto para a encenação. No entanto, o artifício se esgota, pois a peça tem 90 minutos, e o que fica é a necessidade de continuar falando, compulsivamente, e os atores, que têm um bom domínio da arte de dizer um texto, se esmeram em tornar interessantes as idas e vindas da relação.
Babaioff, que de início tem alguns problemas de dicção, se sai melhor no conjunto, exclusivamente porque Vaz, o Dealer, é tão vaidoso como ator que impregna sua personagem desse mesmo tom. Percebe-se claramente que ele se acha grande. Nada contra a vaidade no intérprete, acho mesmo que ela seja intrínseca, porque o ator é um exibicionista. Mas Vaz poderia ter segurado um pouco mais seu deslumbramento, que o torna por vezes antipático pelo excesso.
A cenografia e a iluminação apresentam possibilidades de grande beleza plástica. A luz é simples, mas eficiente. O que afasta um pouco o espectador médio é, sem dúvida, a complexidade do texto, longe de ser comunicativo, porque se embrenha em labirintos. É preciso ter atenção redobrada, porque o espaço onde a peça foi apresentada é grandioso, e o texto é intimista. As palavras de Koltès são lindas, fazem todo o sentido. Mas essa é a encruzilhada da dramaturgia contemporânea: a beleza e o cuidado da forma têm que conviver com a dificuldade, com a sofisticação propostas.
Dona Otília e outras histórias
No ano passado, sugeri ao Breno Ketzer, Coordenador de Artes Cênicas de Porto Alegre, a realização de um evento que marcasse os 50 anos de nascimento de Vera Karam (1959-2003). Ele imediatamente topou a ideia e organizamos, junto com a Laura Backes e a Lurdes Eloy, o evento Vera Karam- Uma paixão no palco, em outubro de 2009. Leituras dramáticas, uma mesa de depoimentos sobre Vera e uma exposição com materiais diversos fizeram parte da justa homenagem à dramaturga, contista e tradutora pelotense que nos deixou tão cedo.
Meu primeiro contato com a obra de Vera Karam foi em 1994, quando da estreia do espetáculo Dona Otília lamenta muito, dirigido pelo Mauro Soares, com o próprio diretor, Nena Ainhoren, Cleiton Echeveste e Nadya Mendes no elenco. Nesse dia saí com um livro autografado por ela com o texto editado do espetáculo pelo IEL, que guardo até hoje com muito carinho. Vera venceu, anos depois, o Concurso de Dramaturgia Qorpo Santo, com o texto Ano novo, vida nova, que foi em montado em 2001 pelo Decio Antunes. Desta vez tive a oportunidade de atuar nesse que é a melhor peça da Vera, onde seus temas recorrentes estão expostos de forma mais bem articulada: o humor negro, o non sense, as relações familiares, o cotidiano medíocre e comezinho tranformado em comedia. Agora Gilberto Gawronski, que foi amigo pessoal da autora, nos traz esse seu Dona Otília e outras histórias, reunião de três esquetes (Dona Otília lamenta muito, A florista e o visitante e Dá licença, por favor?), costurados por mais um (Será que é o contrário a vida da atriz?).
Quem já leu a dramaturgia de Vera Karam sabe que ela não foi feita para concepções extravagantes, performáticas ou pós modernas. Vera trabalha com o realismo, entrecortado por ações e situações absurdas, e vinha daí o melhor de seu humor. Nesse sentido, Gawronski foi fiel à dramaturga, construindo um espetáculo simples, baseado no texto e no trabalho dos atores, que são o sustentáculo do bom teatro. Há, no entanto, em meio à simplicidade, escolhas estéticas definidas e que casam muito bem com o clima geral dos textos: algo assim como uma atmosfera de cabaré (alemão, por favor), um toque de Karl Valentin que se ajusta bem ao todo. O espetáculo, espertamente, vai melhorando progressivamente, e termina com uma cena hilariante (Dá licença, por favor?) protagonizada por Guida Vianna, que dá um banho de non sense e diz perfeitamente o engraçadíssimo texto de Vera. Um espetáculo, como se diz, de câmara, pequeno, e que poderia abrir mão do tom de voz excessivamente alto de alguns atores (exceção a Gawronski, que também atua, na medida). Um certo ar cafona dá uma cara popular ao espetáculo (que imagino ser proposital), e traz o público na palma da mão: os espectadores gargalhavam muito, se divertindo a valer. Mérito do texto, mas também dos atores (os já mencionados Guida e Gilberto, mais Letícia Isnard, com um bom timing cômico, e o menos eficiente Sávio Moll, excessivamente "duro" em alguns momentos).
Uma coisa deve ser destacada: a versatilidade de Gilberto Gawronski, que no mesmo festival apresenta duas encenações que diferem como água do vinho: Ato de comunhão, profundamente conceitual, e Dona Otília e outras histórias, profundamente popular. Por trás, dois excelentes textos. Gawronski sabe se cercar do que há de melhor, e isso certamente faz a diferença.
A LIÇÃO está chegando
A LIÇÃO
estreia dia 15 de outubro no
TEATRO DE ARENA.
estreia dia 15 de outubro no
TEATRO DE ARENA.
Texto de EUGÈNE IONESCO.
Direção de MARGARIDA LEONI PEIXOTO.
Com MARCELO ADAMS e LUÍSA HERTER.
Fotos de JÚLIO APPEL.
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
O idiota
Corro o risco de parecer passadista, nestes tempos lehmannianos de teatro pós-dramático, mas não há nada tão eficiente como a literatura dramática, em teatro. A história nos deu alguns gênios (os gregos antigos, Shakespeare, Molière, Tchekhov, paro por aí para não citar dezenas), que fizeram todo o trabalho pesado por nós: objetivaram, sintetizaram, etc., entregando textos que guardavam, dentro de falas pronunciadas por personagens, tudo que é necessário para fazer viver o espetáculo. O drama (em grego, ação) é portanto diferente da Épica e da Lírica, porque carregam características predominantes diferentes. Obviamente que não há gênero puro; por exemplo, não se pode dizer que Hamlet seja uma obra 100% dramática, porque ela está impregnada pelo épico e pelo lírico (e isso fez o sucesso dessa obra-prima de Shakespeare). Desde há muito adaptam-se, para os palcos, obras não escritas originalmente para eles (resultando muitas vezes em grandes espetáculos; lembro agora de O que diz Molero, dirigida pelo Aderbal Freire Filho). O trabalho de adaptação é suado, porque se tem que extrair algumas gotas da essência, não encher o vidro inteiro. Esse extrair é o mais difícil. Quando trabalhamos sobre um material previamente "essencializado", as coisas correm diferentemente (o que obviamente não é garantia de sucesso).
Eimuntas Nekrosius esteve em Porto Alegre outras três vezes: em 2001, com Hamlet, em 2006 om Otelo e em 2008 com Fausto. Nas duas primeiras ocasiões, Nekrosius trabalhou com textos shakespereanos. Com Fausto, igualmente parece ter se inspirado em uma peça de teatro (Christopher Marlowe, contemporâneo de Shakespeare, escreveu Dr. Faustus no final do século XVI, texto publicado em 1604). Portanto, todas as imagens enebriantes, surpreendentes, poéticas, impactantes que eu tive oportunidade de presenciar em 2001, 2006 e 2008 partiram de visões elizabetanas, de um período maneirista, "abarrocado", repleto de imagens e de margens entre vida e morte. Nekrosius, naquelas três ocasiões, foi muito sábio em escolher materiais riquíssimos, prenhes de imagética. Foram leitos nos quais o lituano deitou e rolou, nos deliciando com suas ousadias e seus tempos mágicos.
Em 2010, Nekrosius volta a Porto Alegre com a adaptação do romance O idiota, calhamaço de quase 700 páginas, escrito por Fiódor Dostoievski em 1869. Percebam a sutil diferença entre um texto de menos de 100 páginas (peça de teatro) e um romance sete vezes maior. Qual é o mais fácil de adaptar? Alternativa a) a peça de teatro; alternativa b) o romance. Quem escolheu a alternativa b precisa estudar mais.
Sem brincadeira: Nekrosius tinha em mãos um romance grandioso, um ícone da literatura russa do século XIX, mas que carece, em grande parte de...ação dramática. Sim, essa coisinha que faz toda a diferença entre um espetáculo e uma simples descrição detalhada. Nekrosius está lá, com algumas imagens lindas, mas claramente menos inspirado que nas peças anteriores. Espero que o caso não seja de gás acabando; prefiro acreditar que foi o material menos dramático que o fez rarear aqueles momentos de frisson, de arrepio estético, que tanto me encantaram das outras vezes. Muita falação, tentativas de tornar menos maçantes aquelas conversalhadas todas. Tentativas. Nekrosius é um diretor de imagens, de releituras inusitadas, e para isso ele precisa de um material que o instigue mais. Com Dostoievski, ele parece ter ficado um pouco amarrado. É claro que é tudo lindo, lindo. Plasticamente, o espetáculo é perfeito. Mas infelizmente, vivemos de expectativas, e todos nós construímos uma imagem pessoal, a partir da qual seremos identificados pelos outros. Eimuntas Nekrosius é, para mim, um encenador de imagens, o que ele faz à perfeição. Por isso sempre vou esperar por mais e mais. Desta vez, O idiota ficou aquém do que eu esperava. Talvez por ter visto coisas tão perfeitas, fiquei mal acostumado. Paciência. Os artistas têm que conviver isso, e é por este motivo que alguns piram e não conseguem lidar com a cobrança. Quem mandou escolher essa vida?
Eimuntas Nekrosius esteve em Porto Alegre outras três vezes: em 2001, com Hamlet, em 2006 om Otelo e em 2008 com Fausto. Nas duas primeiras ocasiões, Nekrosius trabalhou com textos shakespereanos. Com Fausto, igualmente parece ter se inspirado em uma peça de teatro (Christopher Marlowe, contemporâneo de Shakespeare, escreveu Dr. Faustus no final do século XVI, texto publicado em 1604). Portanto, todas as imagens enebriantes, surpreendentes, poéticas, impactantes que eu tive oportunidade de presenciar em 2001, 2006 e 2008 partiram de visões elizabetanas, de um período maneirista, "abarrocado", repleto de imagens e de margens entre vida e morte. Nekrosius, naquelas três ocasiões, foi muito sábio em escolher materiais riquíssimos, prenhes de imagética. Foram leitos nos quais o lituano deitou e rolou, nos deliciando com suas ousadias e seus tempos mágicos.
Em 2010, Nekrosius volta a Porto Alegre com a adaptação do romance O idiota, calhamaço de quase 700 páginas, escrito por Fiódor Dostoievski em 1869. Percebam a sutil diferença entre um texto de menos de 100 páginas (peça de teatro) e um romance sete vezes maior. Qual é o mais fácil de adaptar? Alternativa a) a peça de teatro; alternativa b) o romance. Quem escolheu a alternativa b precisa estudar mais.
Sem brincadeira: Nekrosius tinha em mãos um romance grandioso, um ícone da literatura russa do século XIX, mas que carece, em grande parte de...ação dramática. Sim, essa coisinha que faz toda a diferença entre um espetáculo e uma simples descrição detalhada. Nekrosius está lá, com algumas imagens lindas, mas claramente menos inspirado que nas peças anteriores. Espero que o caso não seja de gás acabando; prefiro acreditar que foi o material menos dramático que o fez rarear aqueles momentos de frisson, de arrepio estético, que tanto me encantaram das outras vezes. Muita falação, tentativas de tornar menos maçantes aquelas conversalhadas todas. Tentativas. Nekrosius é um diretor de imagens, de releituras inusitadas, e para isso ele precisa de um material que o instigue mais. Com Dostoievski, ele parece ter ficado um pouco amarrado. É claro que é tudo lindo, lindo. Plasticamente, o espetáculo é perfeito. Mas infelizmente, vivemos de expectativas, e todos nós construímos uma imagem pessoal, a partir da qual seremos identificados pelos outros. Eimuntas Nekrosius é, para mim, um encenador de imagens, o que ele faz à perfeição. Por isso sempre vou esperar por mais e mais. Desta vez, O idiota ficou aquém do que eu esperava. Talvez por ter visto coisas tão perfeitas, fiquei mal acostumado. Paciência. Os artistas têm que conviver isso, e é por este motivo que alguns piram e não conseguem lidar com a cobrança. Quem mandou escolher essa vida?
quarta-feira, 15 de setembro de 2010
Pra lembrar De la Parra
SOFÁ (2005)
A SECRETA OBSCENIDADE DE CADA DIA (2002)
Psicose 4h48
Sarah Kane (1971-1999) viveu pouco e nos legou cinco peças. Dramaturga inglesa que é seguidamente considerada como uma das responsáveis pelo estilhaçamento do texto teatral contemporâneo, ela carrega como um estigma o fato de ter cometido suicídio, após algumas tentativas mal sucedidas. Foi internada em instituições psiquiátricas, e numa dessas é que escreveu esta Psicose 4h48, sua última peça, encenada postumamente na Inglaterra.
A peça conta (?) ou mostra, ou sensibiliza, ou algum outro verbo à escolha do freguês, a angústia e os pensamentos frequentemente fragmentários de uma mulher que tenta repetidamente o suicídio (vejam que a fábula é bastante autobiográfica). Em relação confessional com outra personagem, um homem, provavelmente um médico, apesar de não se vestir como um, essa mulher vomita medos, lembranças, psicoses, enfim.
Senti muito não ter gostado da peça, porque admiro Sarah Kane, e acho tudo o que ela escrevia muito forte e poético. O problema principal, em minha opinião, foi o da redundância da encenação, que insiste em nos mostrar um universo cinzento, niilista, desesperançado e angustiante, estendendo essas imagens pessimistas por cada minuto e cada centímetro da encenação, sem nenhum tipo de refresco ou transcendência. Não estou defendendo a amenização da forte carga de desespero do texto de Sarah Kane, pelo contrário: acredito que essa é a principal qualidade da autora, a falta de pudor para tratar de um tema tão espinhoso. Mas é que o preto no preto desaparece. O branco sobre o branco não é percebido. O cinza que cobre o cinza não é visto. É preciso nuançar, fornecer uma outra cor que seja, na palheta.
A direção de Marcos Damaceno nos coloca em um espaço bastante pequeno, próximos aos atores, que estão iluminados por algumas lâmpadas fluorescentes, que frequentemente reduzem-se a um simples "bafo de luz". A penumbra é constante, como que reforçando a ideia de que "é uma peça dark, então o visual tem que ser dark". Não concordo com isso: essa nota única, que perpassa o espetáculo do início ao fim, cansa em determinado momento.
No programa do espetáculo, o diretor escreve que a peça de Sarah Kane "incita, a quem se debruça a encená-la, a criar correspondentes cênicos e interpretativos à singularidade poética do texto". Infelizmente isso não aconteceu, pelo contrário. Damaceno não nos dá nenhuma imagem que fuja da situação pseudo-realista de uma mulher internada em uma instituição psiquiátrica. E olhe que o texto de Kane é riquíssimo de possibilidades: na versão impressa da peça que possuo, algumas páginas se aproximam de poemas concretos, tal a profusão de números, fórmulas, espaçamentos de texto que se encontram. Sarah Kane não escreveu uma peça próxima do convencional; quem fez isso foi o diretor do espetáculo.
Nesse sentido, o trabalho dos atores Rosana Stavis e Marcelo Bagnara é bom, mas poderia ser melhor não fossem as imposições psicologizantes do encenador. Bagnara, em sua fala final, está muito convincente e próximo daquilo que considero o ideal. Rosana tem alguns problemas de dicção, quando fala rápido ou grita, não precisava.
Faltou poesia para o espetáculo. O impacto seria muito maior se fosse deixado de lado, por alguns momentos, a "faca". Um bom exemplo de poesia cruel é quando se projeta, na parede do teatro, um trecho do texto, com um som ensurdecedor de fundo. Aí há algo mais.
A peça conta (?) ou mostra, ou sensibiliza, ou algum outro verbo à escolha do freguês, a angústia e os pensamentos frequentemente fragmentários de uma mulher que tenta repetidamente o suicídio (vejam que a fábula é bastante autobiográfica). Em relação confessional com outra personagem, um homem, provavelmente um médico, apesar de não se vestir como um, essa mulher vomita medos, lembranças, psicoses, enfim.
Senti muito não ter gostado da peça, porque admiro Sarah Kane, e acho tudo o que ela escrevia muito forte e poético. O problema principal, em minha opinião, foi o da redundância da encenação, que insiste em nos mostrar um universo cinzento, niilista, desesperançado e angustiante, estendendo essas imagens pessimistas por cada minuto e cada centímetro da encenação, sem nenhum tipo de refresco ou transcendência. Não estou defendendo a amenização da forte carga de desespero do texto de Sarah Kane, pelo contrário: acredito que essa é a principal qualidade da autora, a falta de pudor para tratar de um tema tão espinhoso. Mas é que o preto no preto desaparece. O branco sobre o branco não é percebido. O cinza que cobre o cinza não é visto. É preciso nuançar, fornecer uma outra cor que seja, na palheta.
A direção de Marcos Damaceno nos coloca em um espaço bastante pequeno, próximos aos atores, que estão iluminados por algumas lâmpadas fluorescentes, que frequentemente reduzem-se a um simples "bafo de luz". A penumbra é constante, como que reforçando a ideia de que "é uma peça dark, então o visual tem que ser dark". Não concordo com isso: essa nota única, que perpassa o espetáculo do início ao fim, cansa em determinado momento.
No programa do espetáculo, o diretor escreve que a peça de Sarah Kane "incita, a quem se debruça a encená-la, a criar correspondentes cênicos e interpretativos à singularidade poética do texto". Infelizmente isso não aconteceu, pelo contrário. Damaceno não nos dá nenhuma imagem que fuja da situação pseudo-realista de uma mulher internada em uma instituição psiquiátrica. E olhe que o texto de Kane é riquíssimo de possibilidades: na versão impressa da peça que possuo, algumas páginas se aproximam de poemas concretos, tal a profusão de números, fórmulas, espaçamentos de texto que se encontram. Sarah Kane não escreveu uma peça próxima do convencional; quem fez isso foi o diretor do espetáculo.
Nesse sentido, o trabalho dos atores Rosana Stavis e Marcelo Bagnara é bom, mas poderia ser melhor não fossem as imposições psicologizantes do encenador. Bagnara, em sua fala final, está muito convincente e próximo daquilo que considero o ideal. Rosana tem alguns problemas de dicção, quando fala rápido ou grita, não precisava.
Faltou poesia para o espetáculo. O impacto seria muito maior se fosse deixado de lado, por alguns momentos, a "faca". Um bom exemplo de poesia cruel é quando se projeta, na parede do teatro, um trecho do texto, com um som ensurdecedor de fundo. Aí há algo mais.
Sonata de otoño
Em 1978 o cineasta sueco Ingmar Bergman levou às telas o filme Sonata de outono, com Liv Ullmann e Ingrid Bergman nos papéis principais. Adaptada para o teatro, a história da famosa pianista Charlotte, que visita sua filha Eva após sete anos de ausência, ganhou esta versão uruguaia, dirigida por Omar Varela.
Bem, em primeiro lugar as dificuldades: Ingmar Bergman era o tipo de cineasta divisor de opiniões, assim como Michelangelo Antonioni, Woody Allen, Abbas Kiarostami, Theo Angelopoulos, Jean-Luc Godard, etc.. Polêmico porque não se restringia, em seus roteiros e na forma como manejava sua câmera, em respeitar os padrões cinematográficos dominantes. Assim, Bergman ficou conhecido como o cineasta da instrospecção. Seus roteiros, muitas vezes, mergulhavam na psicologia das personagens, expondo seus interiores em jorros elocutórios, onde vazavam sexualidades reprimidas, traumas guardados e mágoas afogadas. Sonata de otoño mantém essa mesma linha, aqui especialmente privilegiando o acerto de contas entre uma mãe bem-sucedida e uma filha aparentemente frustrada com sua vida apagada de mulher de um pastor em uma cidadezinha. Resumindo, as obras de e baseadas em Bergman contêm altas doses de emoções reprimidas, mas que explodem cenicamente a conta-gotas. Isso não facilita a empatia com a plateia, e neste caso específico, ainda menos, porque a peça é em espanhol. A velocidade com que são distendidas as discussões e as banalidades são muitas vezes não percebidas pelos brasileiros nativos.
O espetáculo está baseado, quase que exclusivamente, na força das palavras. Para isso, precisa contar com atrizes que deem conta disso. Nesse sentido, as atrizes (uma delas não fala nada) se esforçam com sucesso para manter esguichando o fluxo palavrório. No entanto, Estela Medina, que interpreta a mãe, soa excessivamente construída, portanto menos "verdadeira". Já a filha magoada, interpretada por Margarita Musto, está na medida da fé cênica (dá-lhe Stanislavski).
Em relação à encenação, há uma contenção de elementos, apenas duas cadeiras, uma poltrona e um piano. Ao fundo, um grande painel pintado onde centenas de troncos de árvores se acumulam. O restante, é trabalho da iluminação. E é uma bela iluminação, que procura criar espaços diferentes e enfatizar algumas atmosferas. O principal senão da peça é a marcação, estranha, que parece não combinar com a proposta do texto. Não sei, é difícil dirigir um trabalho desse tipo, totalmente dependente da palavra. Se ainda fosse uma comédia, poderiam-se criar gags com objetos e ações. Numa peça memorialista como essa, não há muito o que fazer com essa concepção mais realista: as personagens sentam e falam, caminham e falam, ficam de pé e falam. Uma proposta menos realista poderia talvez investir em imagens metafóricas.
O público parece ter gostado do espetáculo, sinceramente, estavam todos muito atentos. É de fato um trabalho sério e bem acabado, mas que não deixa muitos rastros após sua passagem.
Bem, em primeiro lugar as dificuldades: Ingmar Bergman era o tipo de cineasta divisor de opiniões, assim como Michelangelo Antonioni, Woody Allen, Abbas Kiarostami, Theo Angelopoulos, Jean-Luc Godard, etc.. Polêmico porque não se restringia, em seus roteiros e na forma como manejava sua câmera, em respeitar os padrões cinematográficos dominantes. Assim, Bergman ficou conhecido como o cineasta da instrospecção. Seus roteiros, muitas vezes, mergulhavam na psicologia das personagens, expondo seus interiores em jorros elocutórios, onde vazavam sexualidades reprimidas, traumas guardados e mágoas afogadas. Sonata de otoño mantém essa mesma linha, aqui especialmente privilegiando o acerto de contas entre uma mãe bem-sucedida e uma filha aparentemente frustrada com sua vida apagada de mulher de um pastor em uma cidadezinha. Resumindo, as obras de e baseadas em Bergman contêm altas doses de emoções reprimidas, mas que explodem cenicamente a conta-gotas. Isso não facilita a empatia com a plateia, e neste caso específico, ainda menos, porque a peça é em espanhol. A velocidade com que são distendidas as discussões e as banalidades são muitas vezes não percebidas pelos brasileiros nativos.
O espetáculo está baseado, quase que exclusivamente, na força das palavras. Para isso, precisa contar com atrizes que deem conta disso. Nesse sentido, as atrizes (uma delas não fala nada) se esforçam com sucesso para manter esguichando o fluxo palavrório. No entanto, Estela Medina, que interpreta a mãe, soa excessivamente construída, portanto menos "verdadeira". Já a filha magoada, interpretada por Margarita Musto, está na medida da fé cênica (dá-lhe Stanislavski).
Em relação à encenação, há uma contenção de elementos, apenas duas cadeiras, uma poltrona e um piano. Ao fundo, um grande painel pintado onde centenas de troncos de árvores se acumulam. O restante, é trabalho da iluminação. E é uma bela iluminação, que procura criar espaços diferentes e enfatizar algumas atmosferas. O principal senão da peça é a marcação, estranha, que parece não combinar com a proposta do texto. Não sei, é difícil dirigir um trabalho desse tipo, totalmente dependente da palavra. Se ainda fosse uma comédia, poderiam-se criar gags com objetos e ações. Numa peça memorialista como essa, não há muito o que fazer com essa concepção mais realista: as personagens sentam e falam, caminham e falam, ficam de pé e falam. Uma proposta menos realista poderia talvez investir em imagens metafóricas.
O público parece ter gostado do espetáculo, sinceramente, estavam todos muito atentos. É de fato um trabalho sério e bem acabado, mas que não deixa muitos rastros após sua passagem.
terça-feira, 14 de setembro de 2010
As troianas- Vozes da guerra
Em matemática, negativo com negativo dá positivo; positivo com positivo dá positivo; e negativo com positivo dá negativo.
Em arte, grito com grito dá excesso; sussurro com sussurro dá reclamação dos espectadores que não ouvem o que os atores estão dizendo; e gritos com sussurros dá uma obra prima dirigida por Ingmar Bergman.
A fórmula de As troianas- Vozes da guerra é juntar na mesma estrutura espetacular uma narrativa trágica mítica e uma narrativa trágica real. A mítica faz parte do assim denominado "ciclo troiano", filão temático a que recorreram os três principais tragediógrafos gregos (Ésquilo, Sófocles e Eurípides). Os mitos a que os gregos se dedicavam para compor suas tragédias eram inumeráveis, mas havia aqueles especialmente dramáticos (no sentido de dramaturgia), que aparecerem com mais frequência nas tragédias que nos ficaram.
São exemplos de obras filiadas ao "ciclo troiano", que envolvem ações trágicas ambientadas na Troia em guerra com os gregos Hécuba, As troianas, Andrômaca, de Eurípides; Ájax, Filoctetes, de Sófocles. Por outro lado, as tragédias do "ciclo tebano" (referentes a Tebas), apresentam obras como As fenícias, de Eurípides; Édipo rei, Édipo em Colono, de Sófocles; Os sete contra Tebas, de Ésquilo.
Há ainda as notórias peças que tematizam as desgraças dos Átridas, família que reinava em Argos: Orestes, Ifigênia em Áulis, Ifigênia em Táuris, de Eurípides; Electra, de Sófocles; Agamemnon, Coéforas, Eumênides, de Ésquilo. São alguns exemplos, que não exaurem a matéria.
Peço desculpas pelo preâmbulo excessivamente didático, mas acredito que ele contribua para deixar clara minha ideia sobre a encenação dirigida por Zé Henrique de Paula. Como referi, em sua montagem ele utiliza a estrutura de As troianas, tragédia escrita por Eurípides em 415 a.C., e a funde com uma ambientação trágica moderna: os campos de concentração mantidos pelo exército alemão na Polônia e na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e que encerravam, dentro de seus muros, todos aqueles que eram considerados a escória, como judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos.
É admirável a ideia da fusão proposta pelo espetáculo. Haverá acontecimento tão chocante, nas últimas décadas, quanto as atrocidades cometidas pelos nazistas? A destruição de membros de uma religião sendo assassinados por pertencerem a outra crença? O que nos foi legado pela História, conta que Troia (cidade que existiu, de fato) foi arrasada pelos gregos invasores, após dez anos de uma guerra árdua. Graças a uma estratégia tão famosa quanto simples (o cavalo recheado de soldados), a cidade de Ílion (outro nome para Troia; vem daí a Ilíada, de Homero) foi saqueada, incendiada, tendo os homens todos sido assassinados e as mulheres transformadas em escravas dos gregos. As troianas de Eurípides mostra o momento em que as mulheres de Troia estão sendo evacuadas para a Grécia, como escravas. As troianas de Zé Henrique mostra um grupo de mulheres judias chegando de trem em um campo de concentração nazista. Obviamente, o diretor identifica os gregos aos nazistas e os troianos aos judeus. É uma superposição perfeita de motivos, e a peça encontrará várias outras similaridades entre as quatro culturas, tão diversas.
Bem, o que ocorre então? A encenação opta por aproveitar os incidentes da peça de Eurípides, ambientando-os no contexto judaico-nazista e fazendo com que as personagens se expressem em alemão durante toda a peça. Temos nessa escolha da encenação o maior problema, que põe em risco todo o excelente trabalho.
Aristóteles dizia que o objetivo da tragédia era provocar a catarse, através da qual as emoções dos espectadores seriam purgadas, num misto de terror e piedade frente aos acontecimentos que presenciavam sobre o palco. O cidadão saía como que purificado de suas emoções "ruins", após assistir a peça. Portanto, era fundamental a identificação do espectador com a ação trágica que lhe era mostrada. Sem identificação, não haveria terror e piedade pelas personagens (ainda não estávamos na era brechtiana, não esqueçam).
O Holocausto é unanimidade quando se fala de ações chocantes e inexplicáveis (não levemos em conta Ahmadinejad). É impossível passar incólume e insensivelmente sobre imagens e narrativas sobre campos de concentração. Assim, Zé Henrique pega dois temas potencialmente trágicos - um muito distante de nós, o outro muito próximo - e os integra de forma cuidadosa e plasticamente bela, mas nos retira o principal: a possibilidade da catarse. As troianas- Vozes da guerra é uma peça anti-catártica. E ISSO não é proposital, isso é um erro de cálculo, é uma desmedida da encenação. Usando uma terminologia afim, essa é a hybris da peça.
Hybris era o crime de excesso praticado pelos gregos, e foi o excesso que fez com que os ventos não soprassem para as naus de Zé Henrique de Paula e sua afinada equipe. Excesso de confiança, talvez. Contando com a cultura geral do espectador comum que, além de acompanhar a encenação em um idioma que lhes soa como grego, precisaria conhecer mitologia grega o suficiente para acompanhar a evolução da história (que, segundo Aristóteles, deveria ter um início, um meio e um fim). Essa tarefa é quase impossível, a não ser que houvesse na plateia estudantes do Instituto Goethe, ou descendentes de alemães. Entendia-se, aqui e ali, nomes como Helena, Hécuba, Cassandra, Astíanax, Andrômaca e Menelau. Mas esses nomes se perdiam em meio à melopeia germânica.
Sem entender o que ocorre exatamente, o espectador médio desinteressa-se, e tem à sua frente apenas a estética tão conhecida de dezenas de filmes de campos de concentração: os nazistas de um lado, agressivos e impiedosos e, do outro, os judeus, maltrapilhos e submissos. Os momentos de canto são, quase que invariavelmente, os melhores da peça. Nessas ocasiões, abandona-se o naturalismo contundente, que faz com que algumas ações se arrastem em seus tempos reais, não nos teatrais. Quando Zé Henrique joga o naturalismo para o alto, obtém seus instantes mais poéticos, estranhamente melancólicos: a bailarina no vagão; a visão de Cassandra, onde uma partitura de ações é repetida várias vezes pelos atores, em difrerentes andamentos; a conferência dos documentos das mulheres judias, em câmera lenta, perfeita.
A iluminação, a cenografia e os figurinos são impecáveis. A trilha sonora é bonita, os atores são bons, mas falta justamente aquilo que potencializaria esse itens individuais e os faria explodir em um espetáculo inesquecível: a adesão do público, que não acontece. E essa culpa deve ser carregada pela encenação. Para que dificultar as coisas para o espectador? Sim, é genial quando começa a peça e vemos Poseidon e Atena em versões alemãs e cinematográficas. Muito charmoso e cool. Sim, é muito interessante quando ouvimos o idioma alemão sendo pronunciado com muita propriedade pelo elenco. Isso causa um impacto muito positivo. Mas a permanência do alemão como língua da comunicação não funciona. É um capricho de encenador, é uma proposta estética baseada na teimosia, e não no melhor para o espectador. É hermético sem necessidade. Poderia-se dizer: para que identificar o espectador, queremos distanciar! Então para que escolher uma tragédia grega, o Holocausto, e propor ações que buscam a comoção da plateia?
Digo tudo isso me colocando no lugar do espectador não familiarizado com a mitologia grega. Foi constrangedora a acolhida do público ao final da peça: aplausos burocráticos, e que cessaram muito antes do tempo. Isso não acontece em um festival, a não ser que o público de fato tenha ficado aborrecido. Eu ouvi bocejos e suspiros de impaciência à minha volta, sentado na plateia.
Para finalizar, estranhei a ausência da cruz suástica em toda a encenação. Por que será? Em uma reconstituição tão apurada, me soou fortemente essa ausência. As troianas é um espetáculo belo, mas teimoso e levemente de nariz empinado. É como se Zeus, do alto do Olimpo, trovejasse para nós: "Vós não tendes a sensibilidade de perceber a genialidade quando ela se apresenta!".
Ato de comunhão
Em 10 de março de 2001, o alemão Armin Meiwes extirpou o pênis do engenheiro, também germânico, Bernd Brandes. Após Meiwes e Brandes cozinharem o pênis em uma frigideira, comeram-no. Tudo sempre com a autorização do mutilado. Finalmente Meiwes matou Brandes, o cortou em dezenas de pedaços, os quais acondicionou em sacos plásticos, mantendo-os congelados em seu freezer. Nos meses seguintes, devorou a carne, até ser descoberto pela polícia.
Essa história real serviu de argumento para o dramaturgo argentino Lautaro Vilo escrever a peça Ato de comunhão, que agora estreou, com direção e atuação de Gilberto Gawronski, no íntimo palco do Teatro de Arena.
Não conheço o texto original, mas li que a peça prevê dois atores: o mutilador e o mutilado, por assim dizer. A versão de Gawronski elimina o segundo ator e coloca sobre o palco apenas o equivalente a Meiwes, que posteriormente é julgado pelo crime cometido.
Parêntese: Gilberto Gawronski é gaúcho, iniciou sua carreira sendo dirigido por Luciano Alabarse, há 30 anos. Após mudar-se para o Rio de Janeiro, desenvolveu uma longa e reconhecida carreira como ator e encenador. Salvo algumas participações em cinema e TV, o chão de Gawronski é mesmo o palco. Ele tem aquilo que se pode chamar de "a chama", a ousadia e a força necessárias para não se acomodar em fórmulas testadas. Gawronski experimenta, subverte, inventa, parece nunca estar satisfeito, e isso é o que faz o grande artista, a inquietação. Já o vi sendo o bobo do Rei Lear estrelado por Raul Cortez. Já o vi fazendo uma coisa muito estranha chamada Quero ser Gilberto Gawronski. Vi belas encenações dele, especialmente Meu destino é pecar, quando dirigiu os excelentes intérpretes da Cia. dos Atores, do RJ, a partir de Nelson Rodrigues. Uma peça inesquecível. Vi também uma "bichice shakespereana", Medida por medida, que me deixou decepcionado. Não está aí a comprovação de que Gawronski não se acomoda? Erros e acertos fazem parte da nossa profissão. Fecha parêntese.
Ato de comunhão é, indubitavelmente, ousado. Não apenas o texto, forte, repugnante em alguns momentos. Mas também a maneira como o encenador conta essa história. Trata-se de uma longa narração, em off, com cerca de 50 minutos, nos quais o ator Gawronski não pronuncia nenhuma palavra ao vivo (exceção: alguns murmúrios que acompanham, pouquíssimas vezes, a narração). Todas as ações que vemos sobre o palco, praticadas pelo ator, encontram eco na narração, umas mais desenvolvidas, outras apenas sugeridas. Ele trabalha com a contenção: raramente há ações bruscas (acho que nunca), e a movimentação é sempre suave.
A cenografia é pontual: uma armação de espelho, antiga, com um vidro transparente no lugar do aço; um cabideiro de madeira; um revisteiro, também de madeira; uma cadeira de barbeiro; uma tela onde são projetadas imagens; dois projetores de imagens, que por vezes colorem as paredes do teatro com fotos de desconhecidos. A imobilidade é buscada várias vezes, dando pleno destaque à narração, que passa por quatro fases distintas: lembranças da infância, que envolvem uma festa de aniversário e uma partida de videogame; o enterro da mãe; a vida como navegador obsessivo da internet; e o encontro com sua vítima antropófaga. Gawronski tem uma narração bastante neutra, que no início incomoda, já que é praticamente tudo a que temos acesso, já que não existem muitas ações interessantes sobre o palco. Com o passar do tempo, no entanto, e especialmente a partir da metade da peça, nos acostumamos com a narração sem grandes arroubos, e incorporamos a neutralidade como mais um elemento da atmosfera clean. O que era cansativo se torna mais interessante.
É impossível não associar a concepção de Gawronski a A última gravação de Krapp, de Samuel Beckett. Se no texto beckettiano, no entanto, as gravações em fitas antigas ouvidas pelo protagonista, no presente, se misturavam a observações dessa mesma personagem, muitos anos mais velha - na peça de Gawronski ouvimos sua narração, mas não sabemos exatamente em que espaço cênico ela se desenvolve. Provavelmente dentro da cabeça da personagem, mas isso não fica claro (no começo, ele parece estar em uma espécie de casa abandonada, olhando a cenografia como quem visita um lugar após longo tempo; depois, esse mesmo ambiente é atualizado e se transforma no local onde ocorre a ação antropofágica).
A sutileza da interpretação do ator é bastante interessante, tudo é mínimo, os gestos, os olhares. Ao final, com o palco invadido por colunas de luz intensa, como grades de uma cela dentro da qual o protagonista está encarcerado, saímos da toca escura na qual estávamos imersos desde o começo.
Como já disse, é um espetáculo ousado. No programa distribuído, está escrito: primeiro estudo, o que indica tratar-se de uma primeira versão, a ser retrabalhada. Gilberto Gawronski já tem nas mãos um trabalho instigante e, principalmente, um texto maravilhoso. Não é uma peça que lhe dará prêmios de melhor ator, mas merece permanecer em cartaz pela grandeza de sua proposta.
segunda-feira, 13 de setembro de 2010
Cancionero rojo
Espetáculos de clown são difíceis. Já assisti muitos, e não são em grande número os que me agradaram como comédia. Pois em resumo, é isso que se espera de um trabalho de clown, que faça rir. A poesia e o lirismo são complementares, e podem aparecer em maior ou menor intensidade. Portanto, foi uma bela surpresa este Cancionero rojo, espetáculo argentino de grande comunicação com o público, e com dois grandes intérpretes, Darío Levin e Lila Monti. As piadas se sucedem em uma metralhadora que não nega fogo: ri e debocha de tudo e de todos, sem ser, em nenhum momento, agressivo com a plateia (coisa que alguns clowns acreditam ser regra, bota equívoco nisso). O homem da dupla, Darío Levin, como bom comediante judeu, debocha de sua religião em um momento da peça. Mas Cristo, Deus, convenções sociais as mais variadas, são todas satirizadas com tempos perfeitos. Lola Monti é também uma grande comediante, menos careteira que Levin. As expressões dele, no entanto, não cansam como as macaquices de Jim Carrey, por exemplo.
Mais um belo exemplo de como uma comédia pode ser gratificante e inteligente. Parabéns!
Mais um belo exemplo de como uma comédia pode ser gratificante e inteligente. Parabéns!
Marco Antonio de la Parra em Porto Alegre
Quem acompanha a minha carreira e a da Margarida, sabe que há alguns autores aos quais devotamos uma admiração especial, a quem voltamos de tempos em tempos. É assim com Molière, Vaclav Havel e Marco Antonio de la Parra. De la Parra esteve em Porto Alegre, ministrando a oficina Dramaturgia da imagem, e ele aparece na foto aí de cima, entre eu e a Margarida.
Montamos dois textos desse brilhante dramaturgo e psiquiatra chileno, A secreta obscenidade de cada dia, em 2002, e Sofá, em 2005. Em 2006 dirigi a leitura dramática de Estamos no ar, texto que montaremos em breve (o De la Parra já está sabendo!). Foi emocionante conhecer pessoalmente alguém que admiramos tanto, e a oficina se mostrou muito rica e instigante.
domingo, 12 de setembro de 2010
Babau ou a vida desembestada do homem que tentou engambelar a morte
Um espetáculo divertidíssimo, direto do Recife, PE, estado que está frequentemente na programação dos últimos Porto Alegre Em Cena, graças às constantes visitas que o coordenador-geral do festival, Luciano Alabarse, tem feito àquela cidade. No comentário que fiz ao espetáculo também recifense Carícias, escrevi que considero injusta a contrapartida que nós gaúchos recebemos, pois raramente somos convidados a nos apresentar por lá. Nós também gostamos de mostrar nosso trabalho, entenderam, curadores do Festival do Recife?
Voltando a Babau, é delicioso assistir a esse tipo de espetáculo, popular no sentido mais elevado da palavra. Os mamulengos (que vêm de mão molenga) são maliciosos, espertos, desenvoltos, e contam histórias universalmente compreendidas, ainda que povoadas de expressões nordestinas e referências à cultura brasileira. Babau apresenta uma bela cenografia, dividida em três empanadas, que contam histórias dentro de uma história, em uma feliz estrutura metalinguística. O trabalho de manipulação dos bonecos, que parece simples, é dinâmico e cheio de nuances cômicas. As vozes dos manipuladores, e o trabalho brilhante que fazem com o texto, é um espetáculo à parte. Como seria bom se a maioria dos atores de "carne e osso" trouxessem, para suas composições, a riqueza vocal que esses manipuladores nos apresentam.
As histórias secundárias contadas, de uma singeleza medieval, compõem o pano de fundo da história principal, que mostra as dificuldades que os mamulengueiros têm de ganhar o pão de cada dia, em uma arte pouco valorizada, apesar de riquíssima. Percebe-se aí que a história nos toca a todos, artistas, que sobrevivemos às vezes melhor, às vezes pior, mantendo sempre uma confiança inabalável de que as coisas vão melhorar. O final do espetáculo poeticamente nos mostra, através de um efeito de sombra chinesa, os manipuladores que dão vida aos mamulengos. Uma linda imagem, e que sintetiza belissimamente o tema principal.
Happy days
Costuma-se dizer que Dias felizes foi a última grande peça de Samuel Beckett (1906-1989). Se considerarmos a extensão, a afirmação está correta, porque após 1961 Beckett não escreveu nenhum texto dramático tão longo. Agora, se a afirmação se refere à qualidade, não posso concordar com ela. Foram escritas pelo menos duas grandes obras-primas (Eu não, aquela da boca falante, de 1972; e Catástrofe, de 1982, a peça que Beckett dedicou ao meu ídolo Vaclav Havel), e uma série de textos curtos não menos impactantes, em direção ao niilismo exacerbado que caracteriza os últimos passos da obra beckettiana.
Dias felizes, no entanto, compõe com Esperando Godot e Fim de partida uma espécie de trilogia informal, aquelas peças mais montadas e celebradas pelo mundo.
Há poucos anos, esteve em Porto Alegre uma versão dirigida por Peter Brook para esse mesmo Happy days, com uma fantástica atriz negra interpretando Winnie. Comparar é inevitável, até porque trata-se de dois grandes mestres do teatro contemporâneo encenando uma mesma masterpiece. Em minha opinião (a de um adorador e curioso sobre o Teatro do Absurdo e Beckett), a versão de Brook saiu ganhando, porque me parece que a abordagem do texto, mais virtuosística e patética, caminhava em direção ao que imagino ser a raiz da peça. Sim, plasticamente Bob Wilson provoca mais um de seus milagres: a peça que ele dirigiu é linda. Iluminação e cenografia não deixam dúvidas de quem é o encenador por trás. Mas a metáfora por trás da situação inusitada que o texto propõe fica um pouco mascarada (melhor dizendo, é menos escavada).
Dias felizes é uma tragicomédia, não se pode negar; aliás, como quase tudo que Beckett e autores do Absurdo, como Ionesco, Arrabal, Havel, etc., escreveram. Ser tragicômico é mesclar e transformar o melancólico e o trágico no cômico, e vice-versa. Não confundir com o ideário romântico alemão, que defendia, à moda shakespereana, "o sublime e o grotesco" em uma mesma obra. Citação de Victor Hugo, do prefácio à sua peça Cromwell, a propósito. A sensação de inquietude, de dúvida sobre se o que se vê é risível ou "chorável" é o ponto nevrálgico desses autores citados (ok, Ionesco em menor proporção, porque usa o humor em maiores quantidades; ainda assim, veja-se A lição, As cadeiras ou O rinoceronte e tente-se rir de tudo aquilo, impunemente).
Bob Wilson nos apresenta mais uma grande peça. Ainda assim, fica a sensação de que o velho Bob trabalha melhor com outro tipo de encenação (fragmentada, como a de Heiner Müller e seu Quartett), onde pode dar vazão ilimitada à sua dramaturgia de imagens. Por favor, não entendam que estou esnobando Happy days, longe de mim. É inesquecível, mesmo sendo um Bob Wilson menor (e o menor dele é imenso).
Dias felizes, no entanto, compõe com Esperando Godot e Fim de partida uma espécie de trilogia informal, aquelas peças mais montadas e celebradas pelo mundo.
Há poucos anos, esteve em Porto Alegre uma versão dirigida por Peter Brook para esse mesmo Happy days, com uma fantástica atriz negra interpretando Winnie. Comparar é inevitável, até porque trata-se de dois grandes mestres do teatro contemporâneo encenando uma mesma masterpiece. Em minha opinião (a de um adorador e curioso sobre o Teatro do Absurdo e Beckett), a versão de Brook saiu ganhando, porque me parece que a abordagem do texto, mais virtuosística e patética, caminhava em direção ao que imagino ser a raiz da peça. Sim, plasticamente Bob Wilson provoca mais um de seus milagres: a peça que ele dirigiu é linda. Iluminação e cenografia não deixam dúvidas de quem é o encenador por trás. Mas a metáfora por trás da situação inusitada que o texto propõe fica um pouco mascarada (melhor dizendo, é menos escavada).
Dias felizes é uma tragicomédia, não se pode negar; aliás, como quase tudo que Beckett e autores do Absurdo, como Ionesco, Arrabal, Havel, etc., escreveram. Ser tragicômico é mesclar e transformar o melancólico e o trágico no cômico, e vice-versa. Não confundir com o ideário romântico alemão, que defendia, à moda shakespereana, "o sublime e o grotesco" em uma mesma obra. Citação de Victor Hugo, do prefácio à sua peça Cromwell, a propósito. A sensação de inquietude, de dúvida sobre se o que se vê é risível ou "chorável" é o ponto nevrálgico desses autores citados (ok, Ionesco em menor proporção, porque usa o humor em maiores quantidades; ainda assim, veja-se A lição, As cadeiras ou O rinoceronte e tente-se rir de tudo aquilo, impunemente).
Bob Wilson nos apresenta mais uma grande peça. Ainda assim, fica a sensação de que o velho Bob trabalha melhor com outro tipo de encenação (fragmentada, como a de Heiner Müller e seu Quartett), onde pode dar vazão ilimitada à sua dramaturgia de imagens. Por favor, não entendam que estou esnobando Happy days, longe de mim. É inesquecível, mesmo sendo um Bob Wilson menor (e o menor dele é imenso).
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
Carícias
Há uns cinco anos, mais ou menos, assisti a uma montagem do texto Carícias, do catalão Sergi Belbel, com direção da Florência Gil. Era um trabalho acadêmico, e foi apresentado no espaço do Studio Stravaganza, com um elenco bem afinado. Lembro de alguns: João de Ricardo, João Pedro Gil, Diones Camargo, Ana Luiza Silva. Gostei bastante, tanto da encenação quanto do texto, que não conhecia. Agora, ao assistir outra versão da obra de Belbel, reforço minha opinião: o texto é muito bom, com tudo de melhor que pode advir de um autor pós-Beckett, ou seja, lá estão as frases elípticas, às vezes sem um sentido lógico aparente. A encenação é correta, e isso não é desmerecer o trabalho. No programa da peça, lê-se que o diretor é um cineasta que se aventurou pelas searas do teatro. Se isso não se percebe concretamente, quer dizer, não vemos cortes cinematográficos além daqueles propostos pela própria dramaturgia, nota-se, porém, uma timidez em usar elementos mais "teatrais". É uma opção estética, e que também passa pela concepção por vezes ingênua até. Explico: figurinos sempre em preto e branco ou cinza, com variações de estampas e padrões. Marcações que se sucedem à esquerda do palco, depois à direita e depois ao centro, sequencialmente. Ações próximas do naturalismo, que às vezes é quebrado pela ausência do objeto concreto (quando os atores trabalham com objetos imaginários: sardinha, alface, vermes, etc.).
Há até uma sugestão de ringue, quando as cenas são sempre interrompidas pelo soar de uma campainha, e começam novamente ao som dela. Tudo bonitinho e bem pensado, mas não chega a alçar voo.
O maior destaque, para mim, são dois dos atores, uma mulher e um rapaz (os dois da foto aí de cima). Como não sei os nomes deles, fico devendo a justa homenagem. O rapaz, especialmente, é muito bom, e tem um trabalho com texto extremamente verdadeiro. Faz um guri doidão por drogas, de 13 anos, e um cara de 25, que tem relação homossexual e depois tem uma ótima cena com a mãe (a outra atriz que destaco, ótima), quando ela lhe pede dinheiro.
Uma peça pernambucana, não tão comum de ser vista por aqui, e que merece ser conferida. Reclamação: todos os anos o Luciano traz peças de Recife para o Em Cena, mas nunca nada daqui vai para lá, apresentar-se no festival deles. Por que, se o nosso teatro é um dos melhores do Brasil, em qualidade e quantidade? Os curadores de lá estão devendo essa para nós, gaúchos.
Dr. Jekyll e Mr. Hyde
Uma das coisas mais constrangedoras a que assisti no teatro. Só assim para sintetizar a série de equívocos que se constitui esse espetáculo, cuja ficha técnica é dominada pelos brasileiros radicados na Espanha Roberto Cordovani (ator, tradutor, adaptador, diretor e figurinista - sim, tudo isso no mesmo espetáculo) e Eisenhower Moreno (ator, tradutor, adaptador, diretor, iluminador e responsável pela trilha sonora - sim, tudo isso no mesmíssimo espetáculo).
Não sei por onde começar: em primeiro lugar, devo dizer que o Luciano Alabarse, meu amigo pessoal e diretor com quem trabalho há anos, NÃO PODE ter assistido a essa bomba, porque não traria um espetáculo desse nível, da Espanha para cá. Deve ser algum tipo de parceria com alguém, etc. Porque não se justifica, em nenhuma hipótese, proporcionar esses momentos de horror ao público gaúcho. Li por aí que o Cordovani tem uma carreira importante na Europa (?), mas certamente as coisas mudaram muito, porque ele parece desconhecer rudimentos básicos de encenação.
A trilha sonora, chupada de filmes de suspense os mais variados (reconheci vários, mas posso citar, pelo menos, a maravilhosa trilha criada para De olhos bem fechados, de Stanley Kubrick), entra exaustivamente, sempre em altíssimo volume, tentando ganhar no grito e criar um "climão" de mistério, que em absolutamente nenhum momento se traduz em cena. As marcações, dignas de teatro amador, são compostas por vai-e-vens e giros aleatórios, que muitas vezes se findam fora dos focos de luz que povoam a iluminação da peça. Outra coisa: a transformação de médico para monstro beira o ridículo, caricaturizado e over. Pasmem: há momentos de moralismo, quando um dos atores desce para a plateia e discursa para os espectadores (não sei o tema, porque não consegui prestar atenção). Não há nenhum entedimento sobre o que significa o tempo, em teatro. Cordovani, em um esforço visível e angustiante para dizer o texto, recheia suas falas com pausas e hesitações intermináveis, que não servem para nada. Nem Beckett ousaria tanto nesse quesito. Minha tese é a seguinte: os dois atores, que interpretam várias personagens e trocam de figurino N vezes, devem ter decorado o texto em espanhol, onde a peça foi montada, e provavelmente a traduzem, simultaneamente, para o português, quando abrem a boca. Ou isso, ou o Cordovani não decorou bem o texto, o que não quero acreditar.
A estrutura da peça é tão óbvia que chega a doer: a) cena entre dois atores; b) um dos atores sai um pouquinho antes, para ganhar um tempinho extra e se trocar para a próxima cena, onde interpretará outra personagem; c) o ator que ficou em cena diz uma ou duas frases em "enchelinguicês" e sai; d) com o palco vazio, a trilha sonora, altíssima, de filmes de suspense, inunda a cena, ao mesmo tempo em que nuvens de fumaça são lançadas para dentro do palco e vê-se uma projeção em vídeo, supostamente vitoriana, envolvendo cavalos correndo atrelados a carrugaens e mulheres correndo por vielas escuras; e) um ou os dois atores voltam e retorna-se à letra a).
Ponto positivo: provavelmente eles não são picaretas, como muitos que conhecemos por aí, que produzem caça níqueis sem nenhum outro interesse que não o monetário. Aqui, ao adaptar o romance vitoriano de Robert Louis Stevenson, não exatamente um tema fácil e popular, o que se viu foi a incapacidade artística. Ou seja, eles são apenas ruins, não mal intencionados.
Não sei por onde começar: em primeiro lugar, devo dizer que o Luciano Alabarse, meu amigo pessoal e diretor com quem trabalho há anos, NÃO PODE ter assistido a essa bomba, porque não traria um espetáculo desse nível, da Espanha para cá. Deve ser algum tipo de parceria com alguém, etc. Porque não se justifica, em nenhuma hipótese, proporcionar esses momentos de horror ao público gaúcho. Li por aí que o Cordovani tem uma carreira importante na Europa (?), mas certamente as coisas mudaram muito, porque ele parece desconhecer rudimentos básicos de encenação.
A trilha sonora, chupada de filmes de suspense os mais variados (reconheci vários, mas posso citar, pelo menos, a maravilhosa trilha criada para De olhos bem fechados, de Stanley Kubrick), entra exaustivamente, sempre em altíssimo volume, tentando ganhar no grito e criar um "climão" de mistério, que em absolutamente nenhum momento se traduz em cena. As marcações, dignas de teatro amador, são compostas por vai-e-vens e giros aleatórios, que muitas vezes se findam fora dos focos de luz que povoam a iluminação da peça. Outra coisa: a transformação de médico para monstro beira o ridículo, caricaturizado e over. Pasmem: há momentos de moralismo, quando um dos atores desce para a plateia e discursa para os espectadores (não sei o tema, porque não consegui prestar atenção). Não há nenhum entedimento sobre o que significa o tempo, em teatro. Cordovani, em um esforço visível e angustiante para dizer o texto, recheia suas falas com pausas e hesitações intermináveis, que não servem para nada. Nem Beckett ousaria tanto nesse quesito. Minha tese é a seguinte: os dois atores, que interpretam várias personagens e trocam de figurino N vezes, devem ter decorado o texto em espanhol, onde a peça foi montada, e provavelmente a traduzem, simultaneamente, para o português, quando abrem a boca. Ou isso, ou o Cordovani não decorou bem o texto, o que não quero acreditar.
A estrutura da peça é tão óbvia que chega a doer: a) cena entre dois atores; b) um dos atores sai um pouquinho antes, para ganhar um tempinho extra e se trocar para a próxima cena, onde interpretará outra personagem; c) o ator que ficou em cena diz uma ou duas frases em "enchelinguicês" e sai; d) com o palco vazio, a trilha sonora, altíssima, de filmes de suspense, inunda a cena, ao mesmo tempo em que nuvens de fumaça são lançadas para dentro do palco e vê-se uma projeção em vídeo, supostamente vitoriana, envolvendo cavalos correndo atrelados a carrugaens e mulheres correndo por vielas escuras; e) um ou os dois atores voltam e retorna-se à letra a).
Ponto positivo: provavelmente eles não são picaretas, como muitos que conhecemos por aí, que produzem caça níqueis sem nenhum outro interesse que não o monetário. Aqui, ao adaptar o romance vitoriano de Robert Louis Stevenson, não exatamente um tema fácil e popular, o que se viu foi a incapacidade artística. Ou seja, eles são apenas ruins, não mal intencionados.
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
Alkohol- Goran Bregovic
Iniciou ontem, no Teatro do Bourbon Country, mais um Porto Alegre Em Cena. É o 17º, e eu tenho o prazer de participar, como espectador, desde a primeira edição, em 1994, quando os espetáculos ainda eram poucos em quantidade, mas incríveis como experiência cênica. Lembro, lá das primeiras edições, Penstesileias, uma encenação linda com Renato Borghi e Bete Coelho, ou Vau da Sarapalha, peça nordestina de poesia contagiante. E um dos meus favoritos de todos os tempos, Murx, do Volksbühne da Alemanha.
Alkohol, show extraordinário comandado por Goran Bregovic, é um dos momentos altos da história do Em Cena. Com mais 17 músicos e cantores, Bregovic inunda o palco e a plateia com sonoridades impossíveis de não serem acompanhadas pelos corpos de todos. Exótico, rítmico, sensual, não há palavras que sintetizem integralmente a experiência. A maioria dos espectadores dançava, a certa altura do show. E são todos excelentes músicos e cantores, não fosse ainda por cima a maravilhosa música.
quarta-feira, 1 de setembro de 2010
A ÚLTIMA ESTRADA DA PRAIA, imagens
Cenas do longa A ÚLTIMA ESTRADA DA PRAIA, dirigido por Fabiano de Souza, que arrasou na Mostra Panorâmica no última Festival de Gramado. No elenco, eu, Marcos Contreras, Rafael Sieg e Miriã Possani. Nos cinemas, em 2011.
Mães novas
Luísa Herter está arrasando na peça.
Eduardo Steinmetz é o bendito fruto entre as atrizes.
A sensibilidade do fotógrafo Júlio Appel é de matar a pau!
Não estou em cena, mas permaneço bem perto, conferindo!
Assinar:
Postagens (Atom)